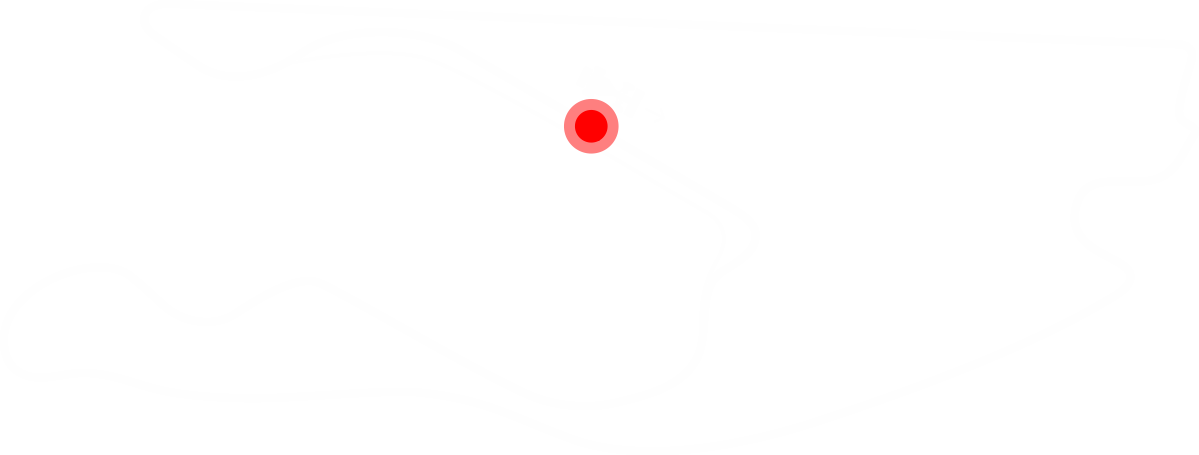O grande drama de todos que estavam cobrindo o GP de San Marino em 1994 era conseguir alguma informação, qualquer uma, que ajudasse a esclarecer o que tinha acontecido no domingo. Havia duas perguntas básicas, a saber: 1) o que causou o acidente? e 2) o que matou Senna?
Não era fácil. Williams, FIA e autoridades italianas se fecharam num silêncio sepulcral. Quem sabia alguma coisa, não dizia. Quem não sabia nada, chutava. Se havia uma tragédia evidente, havia igualmente a necessidade de tentar explicá-la. Era para isso que estávamos lá, os jornalistas. Para informar, antes de chorar a morte de alguém com quem convivíamos regularmente — uns mais, outros menos.
Na segunda-feira pós-acidente, o trabalho se deu em duas frentes, Itália e Brasil. Para além da dor e da tristeza que os brasileiros sentiam, havia também um certo ar de indignação e de busca por culpados. É natural, em casos tão rumorosos. A indignação vinha do fato de a corrida ter sido realizada mesmo depois da morte de Ratzenberger, um dia antes. Mais tarde, essa indignação se estenderia à equipe, que acabou sendo acusada de negligência na solda da coluna de direção do carro de Senna.
Ayrton Senna morreu em 1º de maio de 1994 em Ímola, durante o GP de San Marino (Foto: Getty Images)
As causas do acidente ainda são controversas. A perícia levada a cabo pela Justiça Italiana concluiu que a coluna quebrou. Há quem não acredite nisso. Damon Hill, por exemplo, tem outra tese. Companheiro de Senna em 1994, o inglês tem convicção de que a pressão dos pneus do carro do brasileiro caiu dramaticamente durante as voltas atrás do safety-car, novidade naquela temporada. Na Tamburello, que tinha ondulações respeitáveis, o carro bateu no chão e Ayrton perdeu o controle. “Ele estava para uma parada, com o carro pesado e muito rápido, pneus frios, pressão baixa. Se numa curva daquela o carro oscila por alguma razão, é muito fácil perder o controle. Dá para ver claramente pela câmera do Schumacher que o carro de Senna bate no chão. Quando isso acontece, ele dá uma balançada. Levanta o bico, e ele corrige. Aí bate de novo e vem uma grande ondulação. O carro balança de novo, aponta para o muro e vai direto. Ele freia, mas aí está na grama. E é isso. Tinha muita pressão sobre Ayrton naquele fim de semana. Ele não queria ser segundo para Schumacher de jeito nenhum.”
Esse depoimento de Hill está no livro 'Senna versus Prost – The story of the most deadly rivalry in Formula One', do jornalista Malcolm Folley (Arrow Books, 2009), do 'Mail on Sunday'. No mesmo livro, Hill conta que depois do acidente de Senna a Williams desligou em seu carro o sistema de direção hidráulica que, pelo regulamento, não poderia ter outra função que não reduzir o esforço do piloto para virar o volante.
Tal informação vai ao encontro de o que me disse um dia, na Bélgica, o ex-piloto Emanuele Pirro, que participou como consultor das perícias feitas pelos italianos. Foi numa noite em que tomamos umas a mais no hotel em que nos hospedávamos em Malmedy, depois de uma animada partida de ping-pong. Pirro me contou que uma das hipóteses para o acidente era de que o sistema teve algum tipo de pane e a direção ficou louca, ou pesada demais, ou sei lá o quê. A Williams nunca teria admitido uma falha porque o sistema era, segundo ele, possivelmente irregular. O regulamento técnico, repito, dizia no item 4.2 do artigo 10 que tais sistemas eram permitidos. Na íntegra: '4.2 – Power steering systems which do anything other than reduce the physical effort required to steer the car are not permited'.
Imagem do câmera onboard da Williams de Senna antes do acidente (Foto: Forix)
Mas o que havia naquele sistema da Williams que levou a equipe a desligá-lo no carro de Hill para o reinício da corrida? Jamais saberemos, desconfio. Talvez nada. Mas talvez a suspeita da própria equipe recaísse sobre ele.
Voltando à segunda-feira pós-acidente, eu precisava de alguma coisa além do factual que todos teriam: se o corpo seria submetido a alguma autópsia, quando seria liberado, quando iria para o Brasil, quais as medidas que seriam tomadas pela diplomacia brasileira na Itália, essas coisas.
Já surgiam, àquela altura, informações desencontradas sobre a suspeita de que Senna tinha morrido na pista. Algo que, na prática, não mudaria em nada a situação — ele estava morto, e suspeitava-se que Ratzenberger tinha morrido no circuito, também, embora tenha sido declarado morto oito minutos depois de chegar ao Hospital Maggiore. Mas era algo relevante na construção daquele quebra-cabeças, para tentar compreender a real causa da morte. Ninguém sabia, na segunda-feira, se ele tinha batido a cabeça no muro, se tinha quebrado o pescoço, se tinha tido um ataque cardíaco, nada.
Um dos episódios mais controversos daquele dia foi o do diálogo entre Bernie Ecclestone e Leonardo Senna, que teria ouvido do chefão da Fórmula 1 que 'he is dead', quando na verdade Bernie teria dito algo como 'injuries in his head'. Isso nunca foi, igualmente, esclarecido. Como nunca se soube direito qual o teor de um suposto dossiê que Leonardo teria levado ao seu irmão com informações sobre sua namorada Adriane Galisteu, de quem a família não gostava. Senna estava, sim, mais tenso que o normal naquele fim de semana — disso me lembro bem. Sem saber de dossiê nenhum, que poderia ter contribuído para esfacelar seu estado de espírito, eu e todos que lá estavam, antes do acidente, atribuíamos seu humor especialmente amargo à situação dele no campeonato: duas corridas, zero ponto, com Schumacher já somando duas vitórias. E, de quebra, um carro dificílimo de guiar.
Algo que já tinha ficado claro para ele depois das primeiras voltas que deu no Estoril, em janeiro, com sua nova equipe. Era um carro complicado, arisco, nervoso, quase incontrolável. Eu estava nos boxes da equipe em Portugal, me escondendo do frio cortante daquele inverno, quando ele saiu do cockpit com cara de poucos amigos, passou do meu lado e eu mandei um singelo “e aí?”. Ayrton me respondeu com uma frase tão singela quanto: “Puta que pariu, bem na minha vez cagaram no carro”. Frase que repetiria semanas depois a amigos em Aida, no Japão. Depois, foram mais três dias de intenso trabalho com o híbrido FW15C e a conclusão: “Sem suspensão ativa, esse carro não é tudo isso que a gente via, não”.
A última entrevista, digamos, agendada de Senna naquele fim de semana de Imola aconteceu na quinta-feira, como em todas as semanas de GP. Ele recebia a imprensa brasileira no motorhome da equipe e falava sobre a corrida, sobre o campeonato, sobre os adversários e tal. Dela, me lembro de um detalhe irrelevante. Senna vestia uma calça impecavelmente branca e comia macarrão com molho de tomate enquanto falava. Eu achava que uma hora aquele molho ia respingar na calça. Não lembro direito o que disse. Mas escrevi, naquele dia, baseado na entrevista de Ayrton, algo que, visto 20 anos depois, tem ar de profecia: 'O maior problema da Williams é a falta de estabilidade em pisos irregulares. O carro ‘salta’ muito e não desfruta de seu potencial aerodinâmico. A suspensão, muito dura, agrava os defeitos de nascimento do projeto — originalmente concebido para utilizar um sistema computadorizado, que mantém o carro a uma altura constante do solo (proibido neste ano pelo regulamento da F1).'
No dia seguinte, depois de fazer o melhor tempo no primeiro treino oficial (os tempos de sexta valiam para formar o grid e Ayrton largaria na pole com essa volta, já que não treinou no sábado depois do acidente de Ratzenberger), Senna continuava reclamando do carro. "Não dá para dizer muita coisa porque de manhã o carro estava razoável e de tarde impossível de guiar. Foi assim com todo mundo. Eu não consegui fazer uma volta inteira bem. Não conseguia me sentir tranquilo para guiar rápido.” Reclamou do vento. “O carro fica imprevisível. Vai bem numa volta e mal em outra. Faz bem uma curva e mal a outra. Você é pego de surpresa.”
Ayrton Senna não estava satisfeito com o carro da Williams em 1994 (Foto: Getty Images)
No sábado, Senna não falou mais.
Segunda-feira, 2 de maio. Já sabendo que seria feita uma autópsia, que o corpo embarcaria no dia seguinte para o Brasil, que a polícia instaurara um inquérito para apurar as causas do acidente, fui atrás de algo que pudesse acrescentar à cobertura mais informações que ajudassem a esclarecer o que matou Senna. Queria falar com a médica que o recebeu no Maggiore, Maria Teresa Fiandri. Ir ao hospital achando que toparia com ela na recepção era fantasia. Foi quando me lembrei da minha namorada.
Maria Cristina Gervasi fora minha namorada em 1981, quando eu estava no terceiro colegial e morava em Campinas. Italiana, mudou-se para a cidade porque seu pai trabalhava com telecomunicações e veio para o Brasil para tocar um projeto qualquer durante um ano. Cris estudava na minha classe no Objetivo e começamos a namorar. Éramos apaixonados, como são os adolescentes. Acabou o ano, ela voltou para a Itália em meio a lágrimas e juras de amor eterno.
Mantivemos contato durante meses em 1982, quando eu já voltara para São Paulo para fazer faculdade. Meu único objetivo de vida era juntar dinheiro para morar com ela na Itália. Trocávamos cartas. Cris, que era de Roma, tinha entrado na universidade para fazer medicina. Em Bolonha.
Ainda em 1982, ela arrumou um namorado, engravidou e casou. A última notícia que tive dela foi essa. Estudava medicina em Bolonha e tinha casado. Perdemos o contato, tocamos a vida.
A turma do Objetivo em 1981: eu estou com o chapeuzinho ridículo, ao lado de minha namorada (Foto: Arquivo Pessoal/Flavio Gomes)
Achei que tinha uma chance ali. Se ela tivesse se formado em Bolonha, talvez trabalhasse na cidade e conhecesse a doutora Fiandri. Mas podia ser que tivesse desistido da faculdade, que tivesse mudado de país, qualquer coisa. Fui a uma cabine de telefone perto do IML, no centro da cidade. Se me jogarem em Bolonha hoje, saberei chegar àquela cabine sem grandes problemas. Algumas coisas daqueles dias permanecem muito claras na minha memória.
Naquela época, era possível consultar listas telefônicas nas cabines, presas com correntinhas para ninguém roubar. Era uma tentativa. A lista continha os números dos assinantes de Bolonha e das cidades da região metropolitana. Comecei a procurar o sobrenome Gervasi nas listas. Não tinha grandes esperanças. Ela tinha se casado, poderia estar usando o sobrenome do marido.
Passei por todas as cidades, até chegar a Casalecchio di Reno, pequena vila a sudoeste de Bolonha. No G, surgiu uma Gervasi. Gervasi, Maria Cristina, dottoressa.
Cris tinha virado médica e vivia nas redondezas. A chance de trabalhar no Maggiore aumentara consideravelmente. De conhecer a doutora Fiandri, idem. Eu precisava tentar alguma coisa. Coloquei alguns milhares de liras no telefone e liguei. Entrou uma secretária eletrônica. Reconheci a voz e devo ter sorrido brevemente. Era bom ouvir uma voz familiar àquela hora, mesmo sendo de alguém que eu não via, ou ouvia, desde 1981.
Deixei um recado em português. Imaginei que ela se lembrava de mim, mas me alonguei para explicar o que estava fazendo em Bolonha 13 anos depois. Não havia internet em 1994. Ninguém rastreava a vida dos outros como hoje. Para se ter notícias de alguém, só escrevendo ou telefonando. Eu não escrevia para minha ex-namorada fazia muito tempo. Muito mesmo.
Terminei minha mensagem dizendo onde estava hospedado, no Novotel de Bolonha, para onde me mudara depois do acidente. Na semana do GP de San Marino, sempre ficava em Riolo Terme, a uns 15 km de Imola. Naquela segunda-feira, saí de mala e cuia da pensão para ficar no mesmo lugar onde estavam os diplomatas brasileiros e a turma do Senna. Ali seria um ponto natural de concentração de informações.
À noite, quando voltei ao hotel, havia um recado para ligar para a dottoressa Gervasi. Liguei. Para quem não falava comigo havia 13 anos, ela foi até rude. “Onde você estava? Te procurei o tempo todo no IML!” Não entendi direito. Como, me procurou? Como você sabia que eu estava lá?
Cristina tinha uma irmã mais velha, Simona, que se casou no Brasil e ficou morando em Campinas. Naqueles anos todos, acompanhou meu trabalho no jornal e no rádio. Elas se falavam, e por isso minha ex-namorada sabia perfeitamente que eu tinha virado jornalista, que trabalhava na 'Folha' e na Jovem Pan, e que cobria F1. Assim, seria bastante plausível que eu aparecesse no IML na manhã de segunda-feira.
O que não era muito plausível, e isso eu não sabia, é que Cristina se formou em medicina e estava se especializando em Medicina Legal. Fazia o último ano da especialização e suas aulas eram ministradas no IML. Seus professores eram os médicos que fizeram a autópsia no corpo de Senna. “Eu sabia que você estava lá. Podia ter te mostrado o corpo!”, bronqueou. Parecia que tínhamos nos falado um dia antes. Engraçado, isso. Não havia tempo para muitas demonstrações de sentimentalismo, e ela entendia isso bem melhor do que eu.
Nos encontramos na terça-feira à noite, depois que o corpo de Senna embarcou, do aeroporto de Bolonha, num avião militar italiano rumo a Paris, de onde voltaria para o Brasil na classe executiva de um voo da Varig.
Cris me deu uma longa entrevista. Descreveu em detalhes tudo que viu, o que acompanhou, o que disseram os médicos. Contou sobre a aula que teve naquela terça-feira, dia em que a autópsia foi realizada, por um dos legistas que realizaram o trabalho, Pierludovico Ricci, um excêntrico professor que trabalhava sem luvas porque acreditava que vírus nenhum resistia à morte de um corpo — não entendo nada disso, mas a Cristina me disse que ele tinha alguma razão, cientificamente falando; não vem ao caso, porém.
Ricci, “estranho e psicótico”, saiu da autópsia e foi para a sala de aula com o jaleco sujo de sangue. Mal-afamado na cidade, era um doidivanas que conhecia todas as putas de Bolonha e costumava convocá-las para noites de luxúria no IML tocando uma corneta pela janela. Um dia os estudantes roubaram a corneta, enlouquecendo o médico. Mas Ricci tinha princípios éticos muito fortes e ministrou uma aula vigorosa sobre o que chamou de “morte Série A e morte Série B”, indignado com a indiferença a Ratzenberger, cujo corpo era vizinho do de Ayrton no IML.
Encontrei a Cristina algumas vezes depois daqueles primeiros dias de maio de 1994. Já não lembro bem quando. Três ou quatro anos depois, talvez. Jantamos uma noite em Bolonha, num belo restaurante numa colina, e em outra oportunidade visitei-a em Casalecchio, onde fiquei comovido com um cantinho de sua casa onde havia na parede uma placa de carro com o escudo da Portuguesa, algumas fotos nossas em porta-retratos e pequenas lembranças de nosso namoro adolescente.
"Senna tinha uma ferida costurada na parte frontal da base do couro cabeludo, mas seu rosto estava sereno."
O que restou do carro de Senna depois do acidente na Tamburello (Foto: Getty Images)
Nos falamos de vez em quando pelo Facebook. Ela se casou novamente e divide o tempo entre a Itália e Zurique, de onde vem seu marido. Acabou de ter um bebê e está feliz da vida. Entrei em contato para lembrarmos aqueles dias de 20 anos atrás – [a conversa aconteceu em 2014, quando se chegou às duas décadas de morte do tricampeão].
Não foi uma conversa triste e melancólica. Médicos sabem lidar melhor com certas coisas como a morte. Me escreveu:
Trabalhar como médico legista lhe permite ver a vida a partir de um ponto de vista diferente. Ou, talvez, você pode apenas ver a sua vida… Corremos atrás de nossos sonhos e ilusões, corremos de manhã à noite, e quantas vezes nos perguntamos o que fazemos? No final, tudo é o resultado de nossas escolhas. Há os que escolhem uma vida de rotina, tranquila, e há aqueles que arriscam suas vidas, e fazem isso de modo bem consciente. E um dia o final da corrida vem, vem para cada um de nós.
Os mortos são todos iguais, não há mortes de série A ou de série B. Dois jovens saíram daqui há 20 anos com seus sonhos e suas esperanças, tirando as esperanças e sonhos de milhões de pessoas. Era o que tínhamos aqui no dia 1° de maio, no Instituto de Medicina Legal de Bolonha, onde eu cursava o último ano de especialização em medicina forense.
Não sou daquelas que seguem os eventos esportivos, por isso não sabia direito o que estava acontecendo quando me vi presa no trânsito da Via Irnerius, incapaz de chegar ao Instituto. Depois de muito tempo consegui alcançar o portão vigiado pela polícia, que só me deixou entrar quando mostrei minha identidade. Estacionei o carro no lugar de costume, em um pequeno recesso logo atrás do portão de entrada.
Notei os rostos consternados e as lágrimas de dor. Me lembro, na entrada para o necrotério, de várias pessoas que falavam com uma cadência e uma musicalidade que me trouxeram lembranças doces e nostálgicas da minha juventude. Eles falavam português e tinham a bandeira do Brasil nas mãos.
A entrada foi inundada com flores, flores em todos os lugares, nunca vi tantas flores juntas, bilhetes, mensagens… Nesse dia, as atividades normais do Instituto foram suspensas e ficamos na varanda observando esse estranho fenômeno que se desenvolvia sob nossos olhos.
Os dois jovens pilotos estavam na ante-sala da câmara frigorífica, e pareciam dormir. Senna tinha uma ferida costurada na parte frontal da base do couro cabeludo, mas seu rosto estava sereno e já não apresentava muito inchaço. Ratzenberger era de uma beleza típica do Tirol Austríaco. Um belo rapaz. Senna, o grande campeão. Ratzenberger, o piloto que fazia apenas sua terceira corrida. Ambos apaixonados pela mesma coisa, ambos rapazes que fizeram do risco e da velocidade suas vidas, e que estavam ali na nossa frente para mostrar como a existência é efêmera, a realidade concreta da transitoriedade da vida.
Com alguns colegas , oramos por suas almas, que agora corriam em direção a outros objetivos e para os seus entes queridos que precisassem de ajuda e conforto. Pegamos algumas rosas e colocamos nas mãos dos jovens pilotos antes do fechamento dos caixões. A rua estava cheia de pessoas que se amontoavam nos portões. E de jornalistas à espera de notícias. Mas não havia muito o que dizer.
Senna saiu em primeiro lugar, e centenas de pessoas com gritos e aplausos acompanharam o caixão saindo do beco atrás do Instituto. Aplaudiam um grande campeão que perdera a vida na Tamburello, deixando um enorme vazio nos corações de fãs em todo o mundo. No dia seguinte, saiu Ratzenberger. Em silêncio, sem aplausos, lágrimas ou câmeras de TV. Membros de sua família chegaram e nós, do Instituto, o aplaudimos. Aplaudimos o rapaz corajoso que perdeu a vida na busca de um sonho que nunca alcançou. Aplaudimos com todo vigor aquele cuja fama não tinha despertado o clamor do povo.
Os mortos estão mortos, e eles são todos iguais. Não há desculpas e/ou atenuantes para aqueles que “esqueceram” muito rapidamente que por aquela corrida, naquele circuito, dois jovens rapazes haviam perdido suas vidas. E que estavam viajando juntos na sua última corrida para a linha de chegada.
Reunimos todos os buquês, colocamos tudo em vários carros e levamos para o cemitério da cidade, que foi inundado de cores, doando uma beleza fúlgida e fugaz, como fora a vida daqueles jovens pilotos, a túmulos desbotados e esquecidos por suas famílias e amigos. Nesse dia, aqueles mortos puderam rever as cores da vida e o fascínio da natureza, num sofrido contraponto à realidade da morte e da dor.
A Tamburello, vista de trás. À direita fica o rio Santerno (Foto: Arquivo Pessoal/Flavio Gomes)
Li com atenção e solenidade cada palavra da Cris, que escreveu em italiano. Já era madrugada em Zurique, onde ela estava no início desta semana, quando apareceu a bolinha verde na janela de mensagens do Facebook.
Posso fazer umas perguntas, Cris?, perguntei, depois das amenidades de praxe. “Sim, claro”, ela respondeu em português. Depois, só escreveu em italiano. E eu, sempre em português. Era assim quando éramos adolescentes. Para escrever, não falar. Minha namorada aprendeu português muito rápido. Era uma excelente aluna.
Cris me contou que a autópsia seguiu os padrões de sempre. “Começamos pelo crânio e depois vai descendo. Não se deve negligenciar nada, mesmo os órgãos aparentemente não atingidos. São retirados os órgãos principais, que são pesados e medidos, e deles retiramos pequenas amostras para análises. Durante uma autópsia, se descreve continuamente tudo que está sendo feito, para que seja gravado e, depois, transcrito.”
Foi Cristina quem, há 20 anos, me disse que a base do crânio de Senna tinha inchado de tal forma que ele ficou bastante desfigurado, “a cabeça em forma de pirâmide, com a base larga”. “O que eu me lembro foi que no estudo das meninges cerebrais foram encontradas lesões que lembravam ferimentos típicos de soldados que morreram em conflitos militares por explosões próximas de bombas.”
Cristina lembrava da roupa com que o corpo de Senna foi vestido: terno preto, gravata cinza e camisa branca, comprados em Bolonha. A cabeça desinchou porque os médicos usaram fármacos para reduzir os edemas cerebrais.
Ele morreu na pista?, repeti a pergunta feita há 20 anos no meu quarto de hotel em Bolonha. A resposta foi exatamente a mesma, a mesma que estaria no primeiro laudo dos legistas, que acabou sendo minha última matéria na “Folha”, porque me demiti depois. "Do ponto de vista jurídico, o conceito de morte não é o que mesmo que se usa em linguagem normal. O que se pode dizer é que as lesões encontradas eram incompatíveis com a vida, e como consequência ele podia ser considerado morto, sim."
Fui encontrar a doutora Maria Teresa dez anos depois, em 2004, na penúltima vez em que estive em Imola. Foi no pequeno prédio na periferia de Bolonha, na Via dei Lamponi. Ela nos atendeu numa segunda-feira ensolarada e luminosa, com aquele céu de um azul pálido e profundo e um ar fresco que, por alguma razão, só se percebe na Emilia Romagna no começo da primavera. Ela nos recebeu em seu pequeno apartamento com cortesia e gentileza. Dias antes fomos à Tamburello, pelo lado de fora da pista, margeando o rio Santerno. As fotos não são boas.
Em 1994, não tínhamos celulares, ou câmeras digitais. Tampouco tínhamos o hábito de fotografar tudo, de quartos de hotel a pratos em restaurantes, como hoje. Mas de vez em quando fazíamos um ou outro registro. As fotos que acompanham este texto, que receio ter sido exaustivo e bocejante, foram feitas naquele fim de semana.
Outras são de 1981, dos tempos de colégio, quando conheci a Cris, esta bela médica de sorriso tímido e olhinhos espertos que um dia entrou na minha vida e, como todas as pessoas que amamos um dia, nela ficou para sempre, porque ao contrário do que já escreveram tantos, nenhum amor acaba.
Texto originalmente publicado em 1º/5/2014 na REVISTA WARM UP e modificado em alguns trechos por questões temporais.
#minhaDiv {
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ffdb09), to(#008001));
background: -moz-linear-gradient(top, #ffdb09, #008001);
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(GradientType=0, StartColorStr=’#ffdb09′, EndColorStr=’#008001′);
}
Relacionado

 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.






 O outro brasileiro: Christian Fittipaldi achava que Senna havia quebrado pernas
O outro brasileiro: Christian Fittipaldi achava que Senna havia quebrado pernas Como marca movimenta R$ 1 bilhão e quais os desafios para mantê-la relevante
Como marca movimenta R$ 1 bilhão e quais os desafios para mantê-la relevante O gêmeo desigual de Senna: morte de Roland Ratzenberger completa 25 anos
O gêmeo desigual de Senna: morte de Roland Ratzenberger completa 25 anos Ímola/94: o mais trágico dos fins de semana, as mortes e a história que mudou a F1
Ímola/94: o mais trágico dos fins de semana, as mortes e a história que mudou a F1 10+: As polêmicas que marcaram a carreira de Senna na Fórmula 1
10+: As polêmicas que marcaram a carreira de Senna na Fórmula 1
 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.